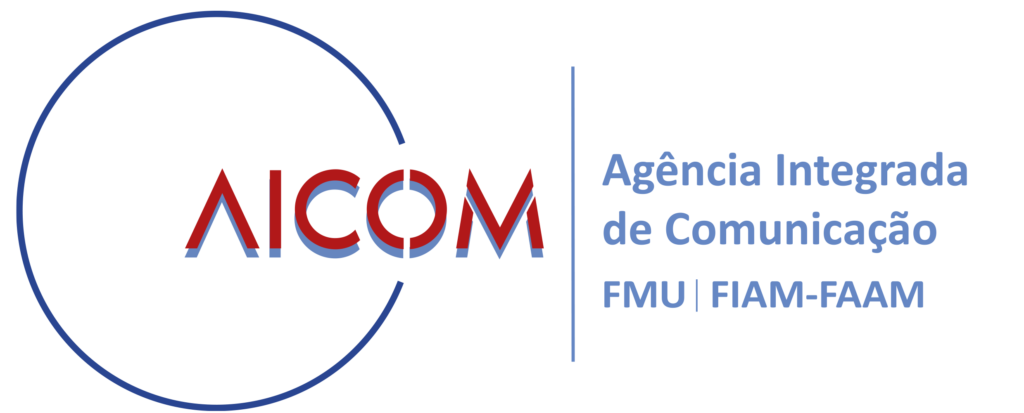O quarto encontro da Sala de Leitura Beatriz Nascimento ocorreu no dia 8 de maio e discutiu temas como a ascensão da mulher na liderança quilombola, o relato da história negra por quem a viveu e o entrelaçamento entre urbano e rural
Por Arthur Vieira Beserra [1]
Revisão por Maria Lúcia [2]
Supervisão de Prof. Guy P. Junior [3]
Profa. Nicole Morihama [4]
No último dia 6 de maio, a chocante imagem de pessoas lavando o sangue das vielas da comunidade do Jacarezinho chamou a atenção da mídia. Ali estava a marca da guerra que há décadas toma conta dos morros fluminenses e que resultou na morte de 29 pessoas durante uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro.
Dois dias depois, o tema esteve presente durante o quarto encontro realizado pelo NERA – Núcleo de Estudos Étnico-Raciais da Fiam Faam, liderado pela professora Maria Lúcia da Silva. Na fala da Secretária-Executiva da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq) Selma dos Santos Dealdina, a cena lhe fez sentir-se ainda mais pesarosa. Essa “dor que enlouquece e mata”, faz com que mães vivam o ciclo inverso da vida ao ter que enterrar seus filhos, muitas vezes, sem ver seus corpos. Ela lembra que a comunidade negra também passa por isso em maior escala com a pandemia da Covid-19, que impediu o último adeus.
Embora as comunidades estejam localizadas no coração da metrópole, o drama vivido há décadas é reflexo da falta de ligação e respeito às origens quilombolas. Pensando nisso, a doutora em História pela Unicamp Mariléa Almeida realizou uma pesquisa sobre quilombos, feminismos negros e pensamento descolonial. De origem quilombola, é natural da região de Vassouras, no sul do Rio de Janeiro. Em 2007, enquanto dava aulas em uma universidade privada, iniciou um projeto de extensão para pesquisar os quilombos daquela região do estado. Ela procurou entender o motivo da comunidade de São José da Serra, localizada em Valença, se manter unida enquanto a sua, de Vassouras, se dispersasse. As descobertas foram além: ficou claro que mesmo em uma comunidade marcada por lutas, as mulheres, àquela altura, ainda não ocupavam um papel de liderança. Isso felizmente mudou com o tempo e em 2012, através de seu projeto de doutorado, conseguiu comprovar.
Quatro anos depois, ela começa a entrelaçar estes conhecimentos. Passou a acompanhar a trajetória de Rejane dos Santos, da comunidade Maria Joaquina, de Cabo Frio, na região dos lagos do Rio de Janeiro. Em um dos eventos da Conaq, conheceu Selma Dealdina e como fruto dos debates, começou-se a dar um significado histórico à emergência de um coletivo de mulheres desta organização. Este coletivo passou a discutir temas tanto como a violência na luta pela terra quanto também a violência contra o corpo da mulher. Essa pauta evoluiu ainda para pensar mudanças na própria política negra, que segundo Marilea, envolve também o “‘feminismo comunitário’, que não tem a intenção de separar homens das mulheres”.
Esse passado sombrio contra os quais as mulheres precisaram lutar para ter voz é relembrado por Carlidia Pereira de Almeida, engenheira agrônoma, mestra em Ensino e Relações Étnico-Raciais e pós-graduada em Inovação Social com Ênfase em Economia Solidária: “Mesmo que as mulheres quisessem falar, elas eram sempre caladas apenas por um olhar”. Ela, que é natural da comunidade quilombola Lagoa do Peixe, localizada no município de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, atualmente vive na comunidade Fazenda Campos, que passa por um processo de reconhecimento. Ela entrou na faculdade através do ProNera, aos 28 anos, e desde o primeiro dia sabia que aquela conquista não era só sua, mas também de sua comunidade e ela devia fazê-la ser reconhecida pelos demais na cidade de Barreiras, tida como um polo do agronegócio.
Elegeu como objeto de estudo as sementes crioulas, “principalmente as de melancia, abóbora e milho”, relata Carlidia. Demonstrando respeito pelas tradições, procurou consultar-se com os moradores mais antigos, na faixa dos 80 anos. Esse trabalho continuou em seu mestrado, onde abordou os saberes e fazeres quilombolas com o tema rezas e benzeções com ramos. Ela conta que teve muita dificuldade em ter professores que lhe pudessem orientar, mas compreende que isso se deve ao fato de um desconhecimento que ainda cerca a academia.
Mas este desconhecimento passou longe dos olhos de Selma, que recebeu o convite da filósofa e acadêmica Djamila Ribeiro para relatar a luta das mulheres quilombolas. Selma — que além do cargo na Conaq, também é reconhecida por seu trabalho como assistente social na comunidade do Angelim III, no Território de Sapê do Norte, no Espírito Santo — aceitou com a condição de que o livro fosse escrito por várias mãos. O resultado foi a obra “Mulheres Quilombolas – Territórios de Existências Negras Femininas”, lançada em 2020 após três anos de construção. Entre as 18 autoras, 17 são quilombolas, incluindo Carlidia.
A decisão de fazer uma obra em conjunto, mesmo após ter participado de experiências como o encontro de mulheres quilombolas de 2015 em Brasília e da formação do coletivo de mulheres que denunciaram casos como o abuso de meninas de 9 a 13 anos em Goiás, foi por acreditar que o relato de mais de 6.330 quilombos em 24 estados deve ser feito da forma mais plural possível. E essa ideia vai de encontro, ainda, com o que Beatriz Nascimento – que completaria 79 anos em 2021 – pensava: que o povo negro deve ser o autor de sua história.
O evento contou também com a presença das professoras Necy Teixeira, Fabiana Teixeira, Erika Teixeira e Josy Dayanny.
Perguntas e respostas
Lia Silveira: O Conaq e outras organizações discutem ações contra o fechamento de escolas quilombolas atualmente em curso?
Selma: Entre 2016 e 2019 foram mais de 600 escolas fechadas. O Movimento Sem Terra (MST) fez um censo sobre as instituições fechadas desde 2013 e o número é assustador. Outro problema é que muitas destas escolas são municipais e os prefeitos optam por gastar com ônibus escolares para levarem os estudantes à cidade ao invés de respeitar a lei 10.639 que contempla o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
Josy Dayanny: Os mais diversos temas abordados no livro foram previamente discutidos, ou cada autora teve autonomia para decidir?
Selma: O processo de escrita levou três anos justamente por isso. Cada mulher precisou descobrir-se autora. Algumas escreveram letras de músicas, outras publicaram seus trabalhos de conclusão de curso que ainda estavam inéditos. Com a maior paciência e respeito, Djamila Ribeiro aguardou até a ideia se completar. O desafio foi maior justamente na hora da organização, quando estes textos precisam convergir para dar ritmo ao livro como um todo.
[1] Aluno do curso de Jornalismo FMU/FIAM-FAAM, estagiários AICOM – repórter
[2] Professora do Curso de Jornalismo FMU/FIAM-FAAM
[3] Professor do Curso de Jornalismo FMU/FIAM-FAAM, supervisor de estágios AICOM
[4] Professora e coordenadora do Curso de Relações Públicas e Jornalismo FMU/FIAM-FAAM